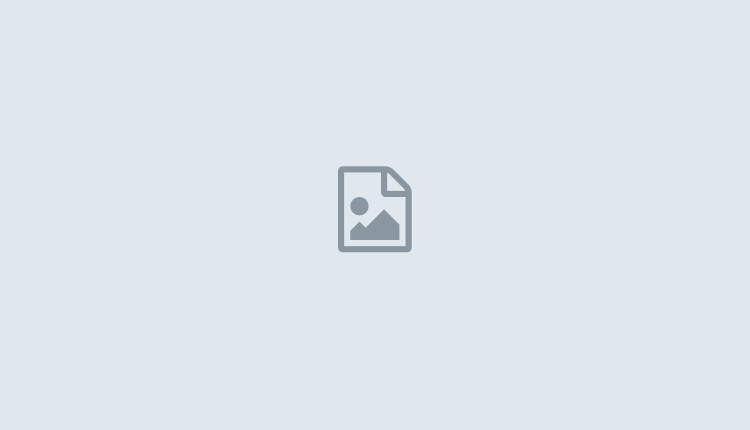
Seu álbum novo, o segundo desde que chegou ao Brasil, há 12 anos, chama-se Matura. Ele é bem diferente do primeiro, Olisesa, de 2014, e a ponte de um para o outro se ergue nas sutilezas. Olisesa, “dá licença” em umbundo, idioma de origem banto falado no centro sul de Angola, vinha talvez menos africano. Era a sua chegada a São Paulo, o encontro com uma cidade que se orgulha de ser plural, mas que se revela em nichos e que se vende aberta a tudo desde que esse tudo soe urbano, de acordo com os códigos vigentes. Olisesa, assim, é uma espécie de distanciamento nem sempre tão natural de Jéssica de si mesma enquanto Matura faz um reencontro.
Se a cantora vem antes do canto, é melhor então seguir a cronologia. Jéssica Areias nasceu em Luanda como parte dos 2% da população não negra do país. Sua mãe é de Lubango e seu pai, de ancestralidade portuguesa, de Benguela. O canto veio aos nove anos e só aos 18 ela decidiu partir em busca de aventuras ultramarinas. Uma passagem por Lisboa acabou tornando-se uma estada de 13 anos, com inúmeras apresentações em bares e casas de fado do Bairro Alto. Qualquer resistência a uma angolana no fado tinha grandes chances de ser derrubada assim que Jéssica soltasse a voz e arrebatasse a plateia. Por outro lado, ela também absorvia o arabismo deixado pelos mouros nas escalas ibéricas, talvez a maior contribuição cultural do povo expulso pelas cruzadas cristãs depois de sete séculos de ocupação. Ou isso ou tais escalas e seus sensuais semitons que a Santa Inquisição católica proibiria depois da expulsão dos árabes e dos judeus da Península Ibérica já existissem em sua voz, já que na genealogia de Jéssica Camacho Areias Pereira também corre o sangue do cristão-novo por parte de pai.
Ao chegar ao Brasil, tudo isso já estava em Jéssica, mas, além de partir para ganhar a vida cantando jazz e bossa nova em lugares como o Bar Brahma e o Bar Piratininga, ela quis estudar. E, assim, fez regência coral, licenciatura em educação musical e pedagogia vocal. A época de Matura chegou depois de esta vida toda ser vivida e Jéssica decidir, musicalmente, assumir sua casa, Angola. Envolvida com o candomblé e entendendo-se mais africana do que quando deixou Luanda, procurou em si um ponto entre o que havia agora de Brasil e de Angola.
Aproximou-se de Léo Mendes, que traz do pai Roberto a África que existe no Recôncavo Baiano, e de Cauê Silva, íntimo dos terreiros, para começar a criar um álbum que soaria pendular: às vezes África, às vezes São Paulo, às vezes Bahia e, por muitas vezes, a urbanidade de todos os lugares.
Matura, a canção humanista; Lemba, uma regravação do também angolano Filipe Mukenga; e a bela Kimbu Liyetu, cheia de vozes sobrepostas, formam as primeiras canções, levando-nos a uma África contemplativa.
A partir de Pranto de Vento, uma parceria com a brasileira Thamires Tannous, a temperatura sobe até chegar aos calores de Kikongo, um samba de caboclo, e Muzonguê, a mistura de semba (que dizem guardar as origens do samba) com toques de ijexá.
As raízes africanas estão lá, mas são sempre diluídas em algum grau pelas mãos de Léo e de Cauê. Algo impede uma imersão completa por um lado e, ao mesmo tempo, leva o que poderia ser geográfico para um plano universal. O quanto do álbum é de Jéssica e o quanto é dos produtores? “Eu precisava do contraponto e minha ideia era de que eles me mostrassem os caminhos”, diz ela. “Quando ficamos só com nossas ideias, acabamos não expandindo. Eles me fizeram ir além.” Uma entrega que só o tempo de matura pode oferecer às ingenuidades.
Lugar de canto
A origem de Jéssica está em seu país, não em sua cor, mas a foto que ilustra essa página a mostra com a tonalidade da pele bem mais escura do que de fato é. Alertada pelo repórter sobre as questões que a imagem pode suscitar, reduzindo a beleza de seu álbum à acusação de apropriação cultural, ela fala sobre o assunto: “Eu jamais faria uma foto com a intenção de parecer negra, não foi o objetivo. O fotógrafo pensou em uma iluminação mais escura para esconder o peito descoberto.”
Seja qual for a intenção, o ruído existe e quem a vê na foto pode enxergá-la negra. Sua fala fica incisiva: “Nunca quis soar ofensiva, tomar um lugar que não é meu. Sou branca e me reconheço como branca e privilegiada, mas a legitimação da minha música não pode passar pela cor de minha pele, mas pela minha origem. Só espero que a música fale antes de mim.” E vai além: “Eu não posso deixar de cantar as minhas raízes só porque sou branca. Se estivesse com a pele mais clara em outra foto, o problema seria o turbante. Afinal, o que é pertencer a uma cultura?”
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
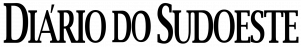
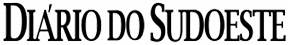
Comentários estão fechados.